A prosa do grande poeta Olavo Bilac dá o que pensar e encerra grandes verdades. Em uma de suas crônicas, de 1905, o escritor faz uma defesa apaixonada “contra” a luz elétrica, e poderíamos imaginar hoje o que ele diria da Internet, dos smartphones, da inteligência artificial… Faço minhas as palavras de um grande professor e amigo, sobre o pensamento de Bilac:
(…) É a eletricidade, com todos os seus benefícios e agora na sua idade madura, nos afastando do assustador e rejuvenescedor contato direto com as forças da natureza, e de tudo que esta experiência nos inspira. (A. E. A. de Araújo)
Segue então a crônica…
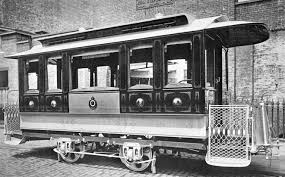
Contra a Eletricidade
(Olavo Bilac, 1905)
Certo amigo meu odeia e amaldiçoa a eletricidade: abomina-a, como assassina da poesia, como distribuidora de uma luz excessiva e escandalosa, que já nos não deixa gozar a melancolia das penumbras, em que medra tão bem a delicada flor do sonho.
Foi anteontem, sexta-feira, que ele se desmanchou, depois de um calmo jantar, em invectivas contra a luz elétrica.
Sexta-feira agoniada, em que muita gente, forçada a sair à noite, teve de ressuscitar o uso d’aquelas lanternas de que se serviam os cariocas de 1820, quando, caso raro, tinham de atravessar a cidade depois do toque de recolher.
Jantáramos juntos, quatro amigos, num amplo terraço deslumbradoramente iluminado por festões de lâmpadas elétricas. Tendo começado a jantar ao cair da noite, não sabíamos que a cidade lá fora estava às escuras, amortalhada na treva espessa. Descemos, saímos: e doeu-nos nos olhos a escuridão, pondo-nos na alma um vago susto.
Seria a revolução?
Raros lampiões estavam ainda acesos: um pequenino ponto luminoso, trêmulo e vago, piscando, de espaço a espaço, nas ruas lúgubres, cheias do espantado vozeio da multidão invisível. O céu, coberto de nuvens negras, pesava sobre a cidade. Trevas em cima, trevas em baixo; e cada rua era um túnel, onde os passos dos transeuntes soavam funereamente.
Somente a Avenida Central, região encantada, onde impera a Fada Eletricidade, conservava o seu habitual esplendor: e a faiscação das suas altas lâmpadas, e a ornamentação fulgurante dos cinematógrafos, que a bordam de um lado e de outro, contrastam impressionadoramente como o negror do resto da cidade.
Toda a multidão afluía para a grande via esplêndida. A multidão tem medo da treva… Os cafés transbordavam gente; e, à porta de cada cinematógrafo, uma longa cauda de povo se formava, assaltando a bilheteria. Toda aquela turba queria ficar fora de casa: a casa, sem gás, é um túmulo.
Nós quatro, conversando, comentávamos o caso.
Não era a mazorca, felizmente. Havia, apenas, uma parede dos operários da companhia do gás. Parede pacífica e platônica, que bem depressa acabaria, como as outras, continuando os pobres trabalhadores a contentar-se com promessas, e prestando o Estado o auxílio da sua força ao Capital, com essa solidariedade que une todos os tiranos numa quebrantável aliança ofensiva e defensiva…
Dos quatro, que passeávamos, um era um velho carioca, já cinquentão, e tão amigo da sua cidade que nunca daqui saiu, – nem para ir a Mendes ou à Barra do Piraí.
E enquanto os outros, com entusiasmo, entoávamos um coro de louvores à fada eletricidade, ele caminhava, resmungando coisas incompreensíveis.
Louvávamos a grande fada, que suspendia sobre as nossas cabeças aqueles globos fulgurantes, e estendia ao longo dos prédios aqueles pendões de luminárias brancas, amarelas, verdes, vermelhas, formando letras e dísticos, aglomerando-se em estrelas e crescentes, dando à Avenida um aspecto de zona de milagre, dotada de uma vegetação fantástica de flores e frutos de fogo.
Mas, levados pelo acaso do passeio, enveredávamos por uma das ruas transversais, e de novo a noite nos cobriu, nos rodeou, nos embrulhou no seu manto sinistro. E foi então que o nosso companheiro cinquentão falou, combatendo o nosso entusiasmo:
― A eletricidade! Se vocês soubessem que alívio é para mim um passeio como este, por uma rua trevosa! Já estou cansado de tanta luz… Ainda sou do tempo dos lampiões de azeite. A cidade era pobre, paupérrima. E, como pobre, e honesta, não tinha luxos.
Todos jantavam, em casa, às quatro da tarde. Depois, um pequeno passeio, uma partida de gamão e uma discussão política nas boticas, uma ou outra novena, uma ou outra visita, e, de longe em longe, um fogo de artifício. Jesus! Atualmente, o fogo de artifício é quotidiano e perpétuo! Esta orgia de luz embebeda-me, alucina-me, cega-me! Abençoada seja esta parede, que nos vem dar um pouco de repouso aos olhos e às almas! Continuemos a passear por aqui, por estas calmas ruas que ainda os postes da Light não invadiram… Tenho a impressão de estar revivendo o tempo antigo.
Antigamente, todo o Rio era assim…
Um de nós bocejou:
― Não sei que poesia se pode achar na treva…
O cinquentão inflamou-se:
― Quer você saber qual é o grande crime da eletricidade no Rio? Matou a poesia do luar! Os nossos luares, neste céu incomparável, sempre foram famosos. No inverno carioca, uma noite de lua cheia, no céu escampo, em que desfalecem e morrem todas as estrelas ofuscadas, é uma maravilha sem par, cuja contemplação dá poesia e imaginação a todas as criaturas, – até aos muares das carroças do lixo e aos cachorros vagabundos. O luar do Rio! foi por causa dele que esta cidade teve tantos poetas, no tempo em que ainda havia poetas. Agora, há… cronistas e burocratas, como este que aqui vai conosco, em que é adorador da eletricidade. Quem faz caso do luar, hoje?
Nem o podemos ver: nem levantamos os olhos para o céu; as avenidas e as lâmpadas elétricas cativam toda a nossa atenção; vivemos a olhar o asfalto ignóbil que calcamos aos pés. E ninguém mais vê o luar, quando ele cascateia em rios de prata pelo pendor das montanhas, e mergulha gládios rutilantes na face arrufada do mar, e chora chuveiros de pérolas entre os ramos das árvores. A Eletricidade matou o luar!
Tínhamos chegado ao velho largo do Paço. O jardim, Osório, o chafariz histórico, tudo dormia, sob a capa das trevas. Mas, de repente, rasgou-se uma larga brecha na muralha das nuvens que forravam o céu; e um luar admirável, límpido, de uma brancura e de uma maciez de arminho, suavemente se espalhou sobre a dormente amplidão dos canteiros, dos relvados, das calçadas de cimento. Os oitis animaram-se, bracejaram, vestidos de prata viva. Osório agitou-se sobre o cavalo de bronze, nessa existência fictícia que a fantasmagoria do luar dá sempre às coisas inanimadas. O mar, ao longe, resplandeceu, retalhado por uma larga faixa fúlgida e tremente. Ficamos os quatro extáticos, suspensos, gozando o espetáculo magnífico. E o cinquentão exclamou, abrindo os braços, com um ar de beatitude na face:
― Abençoada seja a parede dos gasistas, que nos permite ver em toda a sua majestade divina, sem o contraste odioso e concorrência indigna da luz artificial, a tua luz incomparável, ó Diana formosa, caçadora de estrelas, mãe de todos os sonhos, consoladora dos tristes!
Todos nós dissemos:
― Amém!
Cerrou-se de novo o véu das nuvens. Dura tão pouco o que é belo!…
Retrocedemos, e enfiamos os passos pela rua da Assembleia, escuríssima; longe, irradiava o clarão da Avenida. E o nosso amigo, cerrando o punho, bradou, naquela mesma voz tonitruosa com que o padre Júlio Maria amaldiçoa o pecado e os pecadores:
― Maldita sejas, fada perversa, inimiga do luar, Satania abominável, filha de Belzebu!
